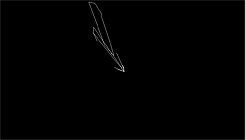Review: Radiohead - "Hail to the Thief" e seus 10 anos de amadurecimento
Disco lançado em uma época conturbada na história mundial completa sua primeira década
Matéria: MonkeyBuzz
Há exatos 10 anos atrás, Hail to the Thief do Radiohead chegava as lojas, e demonstrava uma banda diferente da vista em seus dois antigos anteriores Kid A e Amnesiac. Um grupo que viria a ser conhecido pelas suas diferentes influências, constantes buscas pela evolução dentro da música mas sempre geniais, como poucos artistas ainda podem ter esta aura diante de seu trabalho. O trabalho de 2003, ficou conhecido por ser um pouco mais direto que os seus antecessores, utilizando mais guitarras e instrumentos orgânicos ao invés de orquestrações construídas a partir de computadores e sintetizadores.
Se engana, porém, quem acredita que o grupo viria a abandonar tais apetrechos, os quais ficaram conhecidos nas duas obras citadas anteriormente, mas que foram muito bem introduzidos no clássico OK Computer. No entanto, como o líder e vocalista, Thom Yorke, costuma dizer sobre o período de gravação de Hail, o computador havia se tornado parte integrante do grupo, entrando no estúdio e sendo utilizado ao mesmo tempo que os instrumentos usuais, sem no entanto, se tornar um elemento externo a composição, com alguém sentado e interagindo somente com a máquina e não com o grupo. Por isso vemos em Hail o continuo uso de samples, sintetizadores e baterias eletrônicas mas de uma forma que viria a se tornar virtuosíssima nos posteriores In Rainbows e King of Limbs.
Construído em um período um tanto obscuro na história da humanidade em que os ataques as torres gêmeas em Nova York criariam um guerra declarada ao terror, e consequentemente uma inquisição as formas de pensamentos diferentes encontradas no Oriente Médio, acabou criando o cenário perfeito para um disco, que para muitos é político mas que para Yorke é simplesmente “um retrato do que ele vivia e escutava no rádio nas manhãs”. Logo o clima que permeia toda a obra é um tanto nebuloso, incerto como o mundo de amanhã parecia na época, mas ao mesmo tempo carregado de raiva e explosões de sentimento, trazendo a tona uma característica conhecida da banda: a de criar faixas crescentes com um clímax angustiante e sincero.
Gravado em Los Angeles em conjunto com o seu maior parceiro e produtor Nigel Godrich, trouxe de volta algumas características que aparentemente pareciam ter desaparecido nas obras anteriores. Para o grupo, deixava-se de lado a “manufatura musical” em que todos os membros se preocupavam com texturas, e horas e mais horas de gravação e pós produção, para um formato mais direto em que cada faixa fora gravada em um dia, sem tempo para ser revista. Era pegar ou largar o que tinha sido feito. Diante de tantas idéias não é a toa que o disco soa tão complexo, com diversas faixas com subtítulos( nomes de faixas não trabalhadas), temas que iriam desde a o massacre em Ruanda até dizeres encontrados no livro clássico de George Orwell 1984.
O próprio título, Hail to the Thief, ou em um tradução livre, “saudações ao ladrão”, uma clara brincadeira com a palavra chief (chefe de estado em inglês),pareciam uma clara referência a George Bush e sua guerra ao terror. Logo todos os elementos presentes em sua orquestração passariam posteriormente a ser fadados a considerar o disco como uma “obra de época”.
No entanto, o que mais surpreende no álbum é a sua qualidade. É clara uma ruptura entre o som mais voltado aos elementos eletrônicos e o início de uma dualidade, ou simbiose entre o orgânico e o sintético. A faixa inicial 2 + 2 = 5 ( The Lukewarm) é um soco no peito para aqueles que disseram anteriormente, que o grupo havia se vendido ou perdido. A faixa, toda feita em uma guitarra sem distorções de Johnny Greenwood, é crescente, energética e tem um refrão todo-poderoso, feroz, algo que só um momento conturbado e tamanha experiência poderiam fornecer, assim logo de cara. Single de muito sucesso, viria a figurar entre uma das faixas mais tocadas em shows e concertos por aí e contribuiria para tornar a obra um disco de platina e ouro no Reino Unido e EUA, respectivamente.
Sit Down, Stand Up é o exemplo da mutação da banda em uma música que retorna o piano direto do grupo, e traz uma linha de baixo jazzística claramente inspirada em Charles Mingus devido a sua rapidez e pouco espaço para respiração. No entanto, vemos aqui sintetizadores, leves overdubs e elementos eletrônicos, sim. A explosão vem rápida e mistura ambos elementos em uma perfeita sintonia.
Não pense que a raiva deixou de lado a tradicional e sincera melancolia do grupo, e ela pode ser muito bem vista na linda Sail to the Moon (Brush the Cobwebs Out of the Sky). Lenta e letárgica, tem umas das melhores linhas de guitarra de Johnny Greenwood e que em suas próprias palavras é a melhor faixa do disco.
Backdrifts (Honeymoon is Over) é mais experimental, e quase inteiramente eletrônica. Entretanto, a voz de Yorke parece muito mais solta neste disco, vindo sempre em primeiro plano a quaisquer outros elementos o que traz um caráter mais humano ao disco, algo que é muito visto na dobradinha arrebatadora Go to Sleep(Little Man Been Erased) e Where I End and You Begin( The Sky is Fallin In). Ambas podem ser consideradas obras primas, a primeira uma balada no violão que lembra o Folk criado nos anos 1960 e traz uma ótima nostalgia aos tempos de discos clássicos com The Bends. A segunda é extremamente teatral e tem uma combinação incrível entre baixo e bateria. O crescimento da faixa é estimulante, e as diversas interpretações ao vivo dela fazem desta música uma das mais emocionantes já feitas pelo grupo.
Hail to the Thief é também o disco mais longo em duração do grupo, e traz 14 faixas muito bem realizadas e que transparecem diferentes sentimentos e experiências. Temos a quase barroca e cantada em um coro dolorido,We Suck Young Blood, uma música que em seu próprio título traz a crença do grupo nos líderes mundiais, ou simplesmente vampiros que sugam o sangue das esperanças dos jovens. The Gloming (Soflty Open Our Months in the Cold) é uma experiência antagônica em que o baixo sintetizado cria uma das faixas mais pesadas do grupo e tem uma estrutura que seria vista posteriormente no trabalho solo de Yorke, The Eraser. Uma balada calma mas desta vez um pouco mais crescente, *There There( The Boney King of Knowhere), viria a se tornar um outro single de sucesso.
A verdade é que não importa qual faixa estamos analisando ou escutando, uma estrutura em comum é sempre encontrada: a do crescimento em volume e intensidade até a chegada de um clímax extremamente empolgante. Tal auge pode vir através de um refrão, um solo, uma quebra de ritmo ou um baixo pulsante,não importa, a verdade é que o grupo se preocupou em causar impacto em cada uma de suas criações no disco, fazendo-o evoluir a cada nova escutada.
I Will( No Man’s Land) surge e desaparece subitamente e abre espaço para uma das faixas mais ambiciosas do grupo A Punch A Weeding( no no no no no). Nela vemos uma orquestração extremamente sexy, um trabalho de voz sintonizado entre os membros da banda e traz um lado mais Rock & Roll do grupo, capturando a essência do estilo na década de 1970 que veio a se misturar muito bem com o Funk. Myxomatosis( Judge, Jury and Executioner) é na minha opinião a melhor música do Radiohead. Da carreira deles. Feito em um baixo sintetizado, traz uma linha orgânica em que a bateria encaixa em cada tempo da voz de Yorke e tem uma pegada agressiva poucas vezes vista no grupo. Ao mesmo tempo segue uma ordem inversa visto no disco, com uma diminuição de volume, acalmando todos os ânimos em sua metade para depois voltar de forma ainda mais intensa.
Scatterbrain( As Dead As Leaves) é mais uma ótima lembrança para os saudosistas de OK Computer, e é outra faixa que emana mais uma vez o trabalho daquele ótimo disco. Voz de Yorke, duas guitarras sendo colocadas aos poucos enquanto uma bateria leve deixa que o sentimento passado na música seja interpretado de formas extremamente pessoais. Triste, melancólico ou bonito? Pegue um adjetivo sem ser medo de ser feliz. A Wolf at the Door(It Girl. Rag Doll) termina a obra de forma fenomenal em uma música que tem Yorke interpretando a sua voz de jeito meio Reggae enquanto toda a atmosfera criada é de certa forma poética, quase um romance obscuro sendo contado pelo líder.
Hail to the Thief é uma obra esquecida por muitos, devido ao seu timming, 2003, e a efervescência do Indie Rock com The Strokes, The White Stripes e The Hives. Indo no lado contrário do que estava no mainstream na época, o Radiohead criou uma obra extremamente madura, que viria a conduzir os seus trabalhos posteriormente ao incorporar muito bem elementos eletrônicos a orquestrações usuais em instrumentos. Mostra-se também um disco repleto de particularidades, com um clima que refletia muito a época de sua criação. Se você nunca escutou com tanta atenção este disco, posso dizer sem dúvidas que dentro de uma já vasta e mutante discografia, Hail figura dentre as mais criativas, diretas e efervescentes obras do grupo. Saudações aos seus 10 anos!
Por: Gabriel Rolim










![untitled[1] untitled[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6RceoxYUfwWF5jPRwcdiiwAzgaQ1ES-tRYK0_G9EbARXwPJX1FrNJCaeS2J9DQ7_JOXB9y7MnVNB87S9hqiYeVQO-louPb9zEFx4mSgSTr2dO2KgrHdSV6ZchN0n6rXtUJjiEJXnbPY84//?imgmax=800)