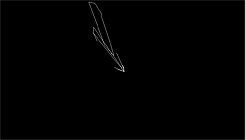Em texto confessional, crítico da Revista O Grito! revela os meandros existêncialistas da apresentação do Radiohead no Brasil
Por Eduardo Carli de Moraes
[Parte 1: ALL THESE WEIRD CREATURES WHO LOCK UP THEIR SPIRITS ]
Elvis Costello brincava que “escrever sobre música é como dançar sobre arquitetura”, ou seja, uma tarefa inglória, difícil e talvez irrealizável, já que tentamos transpor para uma linguagem o que só pode ser comunicado em outra. O que “diz” um solo ou uma melodia é indizível em mil ou um milhão de palavras escritas. Do mesmo modo como os místicos retornam de seus “transes” incapazes de falar um “a” sobre os mistérios que desvendaram, é duro achar no dicionário os termos oportunos para descrever as sensações que só os poderes mágicos da música são capazes de desencadear em nós. Quando o desafio é escrever sobre o Radiohead, que acabou de passar pelo Brasil pela 1a vez em shows antológicos no Rio e em São Paulo, o enrosco parece até se agravar. Pois, mais que um show, este é um daqueles acontecimentos existenciais que nos deixam emudecidos. Estarrecidos. De almas boquiabertas. Penando para entender algo que é tão maior que nós e que acontece num domínio além da razão e da linguagem.
Ficamos batalhando com as palavras, tentando verbalizar uma experiência que transcende em muito o mundo verbal-racional, e sabemos, de antemão, que seria impossível transmitir com letrinhas uma avalanche sensorial e uma jornada sentimental tão inefável como aquelas que nos deu a banda inglesa. Perturbador, angustiante, surpreendente, hipnótico, desolador e infinitamente fascinante: só amontoando adjetivos hiperbólicos pra dar uma vaga idéia das sensações que estão em jogo num show do Radiohead!
Thom Yorke: “quem é esse homem?”, me pego perguntando, e estou certo de que não sou o único. E quem é que ousa decifrar esse mistério? Num ser tão complexo, de alma tão vasta e cheia de nuances, convêm entrar aos tateios, com calma, sem querer respostas fáceis, deixando de lado rótulos e preconceitos, para se aventurar no labirinto íntimo de uma criatura conturbada e genial. Talvez ele, vida afora, já tenha sido taxado com todos os termos pejorativos com que os normopatas denigrem a imagem dos que são diferentes da média: creep, weirdo, freak, loser, nerd, louco – e por aí vai, que a maledicência humana não tem limites. Um show do Radiohead, no entanto, faz com que a gente se pergunte: não é extremamente tênue a linha que separa o louco do gênio? Um “desajustado social” não está, muitas vezes, perto de se tornar um visionário que possui um olhar muito mais são do que a dos ajustadinhos? Este homem, que alguns podem ver como um compêndio vivo de dúzias de patologias psíquicas, não seria, na verdade, um dos artistas mais brilhantes de nosso tempo e uma das mais lindas vozes que já tivemos o prazer de ouvir com nossos tímpanos deliciados?…
O brilhante crítico de rock Simon Reynolds, no livro Beijar O Céu, comenta: “Se o Radiohead é um caso de ‘ame ou odeie’ – e eles parecem induzir reações violentamente polarizadas – muito disso se deve à voz de Thom Yorke, a lástima que são seu tom e textura naturais. ‘Deprê’, ‘chorão’, e ‘torturado’ são os tipos de adjetivos lançados pelos que o hostilizam. Os fãs, em comparação, tendem a falar em ‘bela tristeza’. Essa resposta dividida lembra como Morrissey dividia os ouvintes em 1983, entre aqueles que consideravam sua voz um néctar para o ouvido e os que a achavam irritante como passar a unha na lousa.”
Verdade. Mas taxar a música do Radiohead de “deprê” e pensar que esse rótulo simplista dá conta de descrever todo o caleidoscópio de abismos, céus, vertigens, decolagens, quedas e montanhas-russas emocionais que a banda nos causa é muita rasidão.
É verdade que talvez não nos surpreenderíamos muito se, qualquer dia desses, os jornais do mundo anunciassem de repente que Thom Yorke, no rastro de Cobain, tornou-se o mais novo rock star suicidado que vai-se da Terra deixando uma multidão de órfãos desconsolados. Mas talvez é isso o que faz essa música ser tão comovente e angustiante: justamente essa sensação que podemos ter, ouvindo Radiohead, de que a morte de Thom Yorke sempre foi e é uma iminência. Há certas músicas tão aflitas que sentimos que aquele homem, que as canta, está por um triz – o túmulo aberto já o espera e tudo o que ele precisa é de um empurrãozinho para ali cair…
Chega a ser quase um choque notar que ele é um sobrevivente e que provavelmente vai continuar no reino dos vivos ainda por muito tempo. Ele parece fazer arte para não morrer, e não morrer somente por ter a arte como aliada e como tábua de salvação. Ele parece fazer música para não sufocar, agarrando-se a ela como um asmático à sua bombinha de oxigênio. E é esse tipo de expressão aquela que mais nos comove: sabemos que ele não está de brincadeira e que essa criação, para ele, tem uma importância existencial incomensurável. Talvez por isso o Radiohead seja um oásis de autenticidade num mundo pop saturado de lixo fake e Thom Yorke uma das fontes mais puras de emoção genuína em meio a tantos corações enregelados e brutos.
[Parte 2: ICE AGE COMING, ICE AGE COMING!]
Os “papas da música eletrônica”, os alemães do Kraftwerk, já devidamente consolidados na história do pop como cruciais precursores, ficam parecendo ninharia em contraste com o Radiohead: dá para reconhecer a importância histórica que tiveram, mas não podemos evitar a sensação de que foram superados. Soam hoje como um Atari perto de um Playstation III ou um vinil ao lado de um iPod. Com seu kraut-rock burocrático, mecânico e gélido, onde o artificialismo soterra qualquer sonoridade mais cálida e genuína, o Krafktwerk é a música que faria o planeta Terra se fosse completamente dominado por robôs e computadores, com a raça humana e sua voz subjugados e silenciados para sempre. Apesar de ser possível dançar ao som de Kraftwerk, essa música não soa nada hedonista: ao invés de convidar à farra, os caras parecem instigar uma reflexão sobre a natureza da tecnologia e nossa relação com ela. Estaremos de fato no controle ou seremos derrotados e barbarizados por nossas próprias criações, como sugeria toda a paranóia de Matrix? O levante dos robôs tomará conta também do ramo da música?
O Kraftwerk é uma profecia tenebrosa do que seria o futuro humano se a Tecnocracia vencesse a Batalha Final. Profecia, aliás, que vem sendo comprovada pelo andar da carruagem dos tempos! É música que parece provir de algum filme sci-fi distópico e desesperançado, onde só as máquinas fariam música e o coração humano não mais cantaria (muito menos os rouxinóis!). A imobilidade dos membros da banda no palco, como se fossem meros empregadinhos assalariados de PCs , notebooks e sintetizadores, é um símbolo de uma humanidade desumanizada e mecanizada que não serve mais pra muita coisa além de apertar botões em um controle remoto. Neste inferno de gelo de batidas repetitivas e desumanas chegamos a rezar por um solo de violino ou uma voz de mulher, doce e melodiosa, que nos salve de tanto negrume e tanto ritmo sem doçura.
E não foi à toa que a organização do festival escalou o Kraftwerk para abrir o show do Radiohead: quando os ingleses subiram ao palco, não deu pra sentir nenhuma “ruptura” radical entre as duas bandas. Era como se fossem da mesma laia, da mesma turma, da mesma família – como um avô antiquíssimo comparecendo ao ritual de consagração de seu neto mais brilhante. Kraftwerk abrindo para o Radiohead é um emblema muito simbólico: os precursores alemães, vindos dos primórdios do pop com sua visionária tosqueira tecno, abrindo alas para os ingleses que, a partir dos anos 90, tornaram-se a mais fina vanguarda tanto do rock quanto da eletrônica mais underground – sem nunca terem esquecido de reconhecer a dívida que tinham com aqueles que abriram antes caminhos e atalhos. Um show desses mostra que chamar o Radiohead de uma “banda de rock” é uma impropriedade, ainda mais considerando que nesta década que se acaba em 2009 a ênfase principal deles foi na Eletrônica Experimental e não nos guitarrismos característicos do brit-pop.
Simon Reynolds comenta que, na fase pós-OK Computer, “saturado de música contendo guitarras e voz, Thom Yorke adquiriu todo o catálogo da Warp e começou a comprar discos obscuros de IDM (Inteligent Dance Music) pela internet. Por muito tempo durante as sessões de Kid A ele tinha perdido o interesse por melodia, explorando apenas textura e ritmo.” O Radiohead, depois de ter levado o britpop até seu pico, cometendo um clássico inigualável em OK Computer, afundou-se num outro mundo: o sentimentalismo deu lugar a uma certa “serenidade” e o experimentalismo tomou conta e chutou pra muito longe qualquer migalha de comercialismo. A banda que antes dizia-se influenciada por R.E.M., Joy Division, Elvis Costello e Talking Heads começou a desejar ser como Aphex Twin, Autechre e Tricky. Penetrando cada vez mais no deserto, longe dos holofotes do pop, Thom Yorke saturou sua alma com audições de Charles Mingus e Miles Davis e chegou a inventar um jazz dos infernos para a era da eletrônica (”The National Anthem”).
A era glacial está chegando e o Radiohead surge sugerindo: “throw it in the fire!” (”taque-a no fogo!”) Os versos de “Idioteque” são sintomáticos: ela, uma das músicas mais saturadas de eletrônica que a banda já compôs, traz ao mesmo tempo a melodiosa e pungente voz de Yorke em levante contra a frieza maquinal que vem em maré montante em nosso mundo de airbags, aviões e Ok Computers. É como se eles tremessem e sentissem calafrios com a chegada das nevascas, e a música fosse um levante do fogo contra as forças do gelo.
E foi esta a banda que desembarcou no Brasil: a banda experimental de vanguarda, radicalmente à frente de seu tempo, incoverizável e inimitável. A banda que não faz concessões e que consegue permanecer fidelíssima a uma proposta artística original e pra lá de relevante, ainda que tenha que conviver com todas as cruéis engrenagens do mundo do pop, do hype e do showbizz. Grandes hits foram tocados (”Creep” e “Fake Plastic Trees”), mas a essência do show foi outra: mais arte que entretenimento, mais perturbação do que conforto, muito mais uma tentativa de nos angustiar e estarrecer do que um espetáculo de entretenimento de massas.
“Acusações de falta de senso de humor são frequentemente lançadas ao Radiohead, mesmo considerando que em entrevistas eles são caras bem espirituosos”, comenta Reynolds. E de fato pudemos comprovar: um show do Radiohead não tem nada de “divertido” ou “simpático”, mas esse hedonismozinho de meia-tigela que motiva muita gente que frequenta shows parece uma besteira frente à Arte Provocativa e Dilacerante de Thom Yorke e companhia. “É exatamente o fato de o grupo ter invocado outra vez a seriedade art rock e sua rejeição à leviandade e à frivolidade que na verdade representa o diferente na cultura pop atual, impregnada que está de gritaria machona e sem cerimônia, de afetação heterossexual (de Robbie Williams a todos aqueles programas de nostalgia dos anos 1980) e de ceticismo desconfiado que banaliza a intensidade ou qualquer tipo de procura por uma visão”, sugere Reynolds. “Mas Yorke diz que consegue entender a demanda por entretenimento leve. ‘O motivo pelo qual as pessoas querem tanto escapar é que têm muita coisa do que fugir. De certa forma, a última coisa que qualquer um precisa é de alguém salgando as feridas, que é meio o que estamos fazendo.’
[Parte 3: BRUISES THAT WON'T HEAL]
À frente do Radiohead, Thom tornou-se mais um desses anjos caídos ou seres desajustados que vira “porta-voz de uma geração”. O sucesso estrondoso da banda mostra o grau extremo de identificação por parte de todos aqueles que se sentem excluídos, renegados, mau-amados, horrendos, angustiados, melancólicos, confusos e solitários – enfim, todos que conhecem alguma das diversas maneiras de se sentir “como se não pertencêssemos a este lugar”. O mundo visto como um purgatório gelado, um exílio onde padecemos mais do que nos deliciamos, à espera de uma libertação que não chega jamais, enquanto cantamos e dançamos como desesperados à beira de um despenhadeiro.
Os antropólogos e psicólogos de 2100 (ou além) talvez olhem para trás e enxerguem no Radiohead – que é a História da Cultura acontecendo perante nossos olhos e ouvidos! – um sintoma de uma época espiritualmente doente: saturada de confusão, desnorteamento e ruas sem saída de melancolia. Mas talvez notem também que ergueu-se desse pântano de desconforto um canto de beleza tão elevada, uma música tão profunda e comovente, que chegamos a pensar que, de fato, só faz boa arte aquele que sofre como um desgraçado. E que figura, na arte dos nossos tempos, é maior que Thom Yorke como um exemplo monumental do que significa “Angústia Existencial”?
O fato dessa música ser inegavelmente comovente, aventureira e instigante não impede, porém, que se coloque em questão a “mensagem” do Radiohead para o mundo moderno. Reynolds arrisca um comentário sociológico-político: “Yorke está literalmente dando voz a sentimentos contemporâneos de deslocamento, ausência de posse, apatia, impotência, paralisia; impulsos amplamente sentidos de se retrair e se desengajar que são reações perfeitamente lógicas e desanimadas à falência das políticas de centro, que asseguram que todos permanecem igualmente desencantados e aflitos.” O fanatismo exagerado não deve nos cegar contra essa dimensão “perigosa” do Radiohead: a de uma banda capaz de disseminar “apatia, impotência, paralisia”, como sugere Reynolds.
É como se o Radiohead fosse a banda-símbolo de uma geração nascida depois do crepúsculo das utopias, que pegou carona na ressaca do grunge sem ter mais ideais no horizonte. A fúria foi substituída pela tristeza, a revolta pelo chororô e a luta pelo cansaço. O espírito transformador e entusiástico do Maio de 68 francês, ou do Verão do Amor hippie, ou do levante punk de 77, estão completamente ausentes daqui. E, apesar do Radiohead ser, no fundo, uma banda de uma dimensão política considerável (nem tudo são lamúrias sentimentais: há toda uma vasta crítica cultural na arte da banda!), no fundo parece que sobressai um clima apático e melancólico ao invés de um espírito de pegar em armas (ainda que poéticas!) para derrubar os poderes malignos que nos prendem nas teias da tristeza. O Radiohead é o símbolo máximo de uma geração que, se fosse pra se tornar junkie de algo, seria de Prozac e não de Marx.
Sim: o Radiohead está aí para salgar nossas feridas, para abrir novas e para espalhar pelo ar da cultura um prolongado canto de lamúria, desencanto e protesto. É com certeza a banda mais complexa, fascinante, inspiradora e histórica de nossos tempos. Dá pra dizer sem muito exagero que o impacto que tiveram os Beatles no cenário cultural dos anos 60, o Led Zeppelin nos 70, os Smiths nos 80 ou o Nirvana no dos anos 90 é equiparável à influência do Radiohead no nosso zeitgeist. A angústia existencial e a longa batalha contra a melancolia, além dos temores em relação ao futuro tecnocrático digital, que nos transformaria em “andróides paranóicos” e robozinhos sem coração, dá o tom de uma arte que é o nosso retrato, o nosso abismo e a nossa comoção.
NOTA
Thom Yorke, na folga, foi fazer uma visita à cidade de Valparaíso (Chile), cidade litorânea colorida na costa do Pacífico, onde o poeta Pablo Neruda tinha uma casa etc. Abordado por um brasileiro (claro…) na rua, Thom Yorke se viu diante da pergunta “Nos shows da América do Sul, qual o momento que você achou mais importante?”. Yorke respondeu: “A hora em que o público cantou ‘Paranoid Android’ em São Paulo”.
No blog “Popload” .